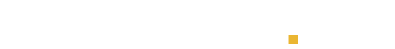|Do arquivo Público 09.07.2021| Por cada hora que trabalhamos em Portugal produzimos, em média, cerca de trinta euros. Nos Países Baixos, por cada hora que se trabalha — e trabalha-se bastante menos horas do que em Portugal, sendo até o país europeu onde mais se trabalha em part-time — produz-se quase o dobro, um pouco abaixo de sessenta euros. No Luxemburgo, por cada hora de trabalho produz-se mais de oitenta euros. Mesmo descontando o efeito do setor financeiro na economia daquele país, no Luxemburgo produz-se certamente bem mais do dobro por cada hora de trabalho do que se produz em Portugal, ou — o que é dizer o mesmo — basta trabalhar menos de metade para se produzir o mesmo que cá. De quem quer que isto seja culpa, uma coisa é certa: não é dos trabalhadores portugueses. É que no Luxemburgo provavelmente cerca de um quarto da força de trabalho é constituída por trabalhadores portugueses. O problema da baixa produtividade em Portugal é provavelmente devido a questões de organização de trabalho, de falta de incorporação de conhecimento e tecnologia, e de erros na alocação de capital público e privado no nosso país. Esses são erros que urge resolver, porque depois de algumas décadas em que a nossa produtividade aumentou entre o 25 de Abril e a entrada na CEE, e entre a entrada na CEE e o novo milénio, os ganhos de produtividade diminuíram. Os anos da troika, em particular, foram uma tragédia — fomos então ultrapassados pela Turquia, que durante décadas antes tinha estado um quarto abaixo da produtividade portuguesa. Os ganhos de produtividade — literalmente, trabalhar menos tempo para produzir mais — parecem um assunto abstrato mas são decisivos para o nosso futuro. Ganhos de produtividade significa salários mais altos, o que significa uma segurança social mais robusta e maior arrecadação de impostos, o que por sua vez significa a hipótese de serviços público de maior qualidade. Tudo isto por sua vez atrai e retém uma força de trabalho cada vez mais qualificada, o que pode resultar em novos ganhos de produtividade. Há aqui um círculo virtuoso a conquistar que pode transformar o nosso país para muito melhor na próxima década. Mas do ponto de vista pessoal, os ganhos de produtividade têm ainda mais significados. Significam liberdade para fazer outras coisas, um maior equilíbrio entre vida profissional e familiar, mais tempo para o lazer e a cultura, mais opções de qualificação e educação ao longo da vida — o que por sua vez reverte de novo a favor de mais capacidade para produzir mais trabalhando menos, ou menos tempo. Ninguém sabe exatamente a receita secreta para obter ganhos de produtividade, mas há ingredientes que são mais ou menos evidentes. Uma revolução tecnológica pode ajudar, mas essas quando acontecem não costumam ser restritas a um só país. Entre as coisas que o nosso país pode fazer para tentar voltar a ter ganhos de produtividade semelhantes aos que já teve no nosso passado estão uma reforma nas políticas do ensino superior — mudar o modelo de financiamento, rejuvenescer o corpo docente e internacionalizar ainda mais —, uma reforma da administração pública ou nas relações entre estado e cidadão, e uma reforma nas políticas de relação com o território, em particular a regionalização. E depois há uma hipótese intrigante e até certo ponto contra-intuitiva, ou talvez não: e se estudássemos a diminuição dos horários e dos dias de trabalho? Para algumas pessoas, isto é anátema: seria necessário primeiro produzir mais para depois trabalhar menos tempo — quando o nosso problema está precisamente na primeira parte dessa fórmula. Ora acontece que estudos sucessivos em diversos tipos de ambientes e escalas (em empresas, em administrações locais ou regionais, e em países inteiros) parecem apontar neste sentido: para ganhar tempo livre sem perda de salário as pessoas estão dispostas a fazer as mudanças necessárias para produzir o mesmo ou até mais. A experiência mais recente vem da Islândia, que de 2015 a 2019 teve um por cento da sua força de trabalho envolvida num estudo de larga escala (à proporção, é claro, de um país pequeno) para passar de quarenta para trinta e cinco horas de trabalho. Nesta experiência, iniciada pela câmara municipal de Reykjavík e pelo governo central islandês, uma grande parte dos trabalhadores escolheram passar a uma semana de quatro dias. Os resultados foram divulgados agora e são reveladores: na esmagadora maioria dos locais de trabalho, a produtividade manteve-se ou até aumentou. Imagine uma semana de quatro dias de trabalho e o que ela significaria: dois dias de fim-de-semana para estar com a família, e mais um dia livre para tratar daqueles assuntos pendentes, desligar, aprender, arrumar a papelada, visitar a avó que vive sozinha. A sua produtividade agradeceria; a economia do país também. Portugal, vamos pensar um pouco à islandesa? (Crónica publicada no jornal Público em 11 de agosto de 2021)