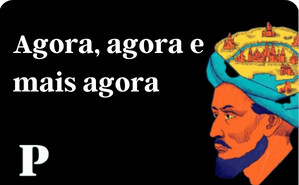Esta crónica, escrita antes de se saber o resultado das eleições espanholas, é sobre a viragem tática da extrema-direita europeia — um fenómeno que já se adivinhava há uma década e que eleições recentes, inclusive as de ontem têm vindo a confirmar, e mesmo a acelerar.
Como muitas outras tendências na extrema-direita atual, um primeiro caso emblemático pode encontrar-se na Hungria de há dez anos atrás. Quando Viktor Orbán regressou ao poder, já radicalizado à direita pela sua experiência na oposição, ele poderia ter optado por um discurso anti-europeu comum, ou seja, propondo o fim da União Europeia ou pelo menos a saída da Hungria desta. Claro que por um lado não dava jeito a Orbán sair da UE porque precisava dos fundos europeus para distribuir pelos seus aliados — a sua própria família e amigos de infância tornaram-se dos mais ricos da Hungria graças aos fundos europeus. Mas o pragmatismo de Obras ia mais fundo e via mais longe: ele sempre achou, e foi dizendo, que melhor do que destruir a União Europeia seria controlá-la.
A meio deste caminho, o Brexit matou as restantes ilusões na direita e na extrema-direita eurocética. Sair da União Europeia era demasiado custoso e complexo para o pouco ou nenhum benefício que daria. Marine Le Pen deixou de querer sair do euro, Giorgia Meloni suplantou Salvini com o abandono do discurso de confrontação com a UE e surgiram em Portugal e Espanha partidos em tudo iguais aos restantes partidos de extrema-direita da Europa ocidental, ou até mais extremistas do que estes, com uma exceção clara: não há neles vestígio de sugestão de que os países ibéricos se afastem da União Europeia.
O discurso anti-europeu foi substituído com muito mais proveito pelo explorar das guerras culturais e o resultado foi algo equivalente ao que se passou em tempos com o Partido Republicano nos EUA: de “partido dos estados” nos períodos em que está na oposição passa a defensor do poderio do governo federal quando controla a Casa Branca.
À esquerda a evolução foi diferente. Os partidos de centro-esquerda já eram pró-europeus no sentido cinzentão do termo (ou seja, institucionais, pró-Bruxelas e “bons alunos” como no nosso caso) e os partidos da esquerda verde europeia mais idealistas e europeístas no sentido de defenderem a democratização radical da UE. Mas partidos da esquerda eurocética (como em Portugal o PCP e crescentemente o BE) ficaram sem saber o que defender: se o fim do euro ou o completar da moeda única, se o fim da UE ou a saída unilateral desta, se o aprofundar da democracia na União ou os ataques ao “federalismo”.
Sem saberem o que defenderem, acabaram optando por não ter uma linha clara sobre a Europa. Falar de outras coisas, esperando que o assunto passe. Mas a Europa não é um assunto que passe — provam-no a guerra, a crise financeira, a integração económica do continente, a globalização e o regresso da política de super-potências. Deixar o vácuo no lugar onde deveria estar um discurso sobre a Europa é garantir que esse vácuo seja ocupado por outros.
Não tem conta as vezes que ouvi alguns amigos de esquerda queixar-se da maneira como Macron foi apresentado como garante do projeto europeu, por exemplo, sem nunca se darem conta de que ao baixarem os braços na luta pela Europa tinham praticamente abandonado o campo a centristas e liberais para que governassem.
O resultado é o que se tem visto: o fim da barreira europeia tornou mais fáceis alianças entre o centro-direita e a extrema-direita europeia. À esquerda, a falta de um discurso sobre o que fazer na Europa tem dificultado as alianças e, pior do que isso, tornado mais difícil mobilizar o eleitorado progressista. Espanha, ontem, terá sido mais um dos exemplos dos riscos que essa falta de opção encerra: a política detesta o vácuo e a política europeia não é exceção.
(Crónica publicada no jornal Diário de Notícias, em 24 de julho de 2023)