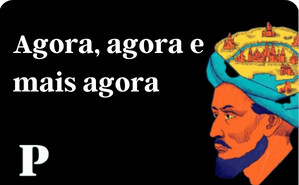|Do arquivo Público 16.08.2021| Há 20 anos estive contra a Guerra do Afeganistão, não só porque os meus instintos sempre penderam mais para o anti-intervencionismo (com exceção de um perigo de genocídio iminente ou uma autorização de uso da força pelas Nações Unidas, que aqui não chegou a haver) mas também porque já então parecia megalómana a estratégia ocidental para o país, influenciada pelos teóricos neo-conservadores da “Guerra Global Contra o Terror” e alimentada por histórias de “construção nacional” à Japão e Alemanha depois da IIª Guerra Mundial que não tinham qualquer aplicação ou credibilidade no Afeganistão do século XXI.
Não era uma posição fácil. Na altura, havia um vislumbre de justificação de auto-defesa por parte dos EUA (não mais do que um vislumbre, no entanto; o Afeganistão não atacou os EUA e quinze dos dezanove terroristas que o fizeram vinham da Arábia Saudita) e, sobretudo, o regime dos talibã era cruel, brutal e opressivo para lá do que era possível imaginar. Dizer que lá as violações de direitos humanos eram diárias é dizer pouco; o Afeganistão dos talibã, entre 1996 e 2001, era um buraco negro onde a própria ideia de direitos humanos só chegava para morrer. Os afegãos e sobretudo as afegãs, as suas minorias étnicas, a sua sociedade civil e todos os que não são fanáticos religiosos tiveram incomparavelmente mais liberdade, acesso à educação e apoio da comunidade internacional durante estes últimos vinte anos em que lá “estivemos”.
A segunda pessoal do plural entre aspas no fim do último parágrafo é onde a porca torce o rabo. É que, independentemente da posição que cada um de nós teve sobre a guerra — contra, a favor, incerto ou indeciso — a verdade é que o nosso país se envolveu no Afeganistão. Através de Portugal, “nós” estivemos no Afeganistão. A ação da NATO e dos seus aliados foi caucionada por diversas maiorias parlamentares, governos de diferentes partidos, ao longo de muitos anos.
E é por isso que dói mais ainda ver que até as previsões mais pessimistas para a guerra foram ultrapassadas. Juntando-lhe o ambiente político atual, o resultado da guerra não foi só destruir e descartar um país: depois de o fazer, vamos assistir agora à farsa da rejeição de refugiados — os refugiados que a guerra em que estivemos envolvidos e o abandono com que estamos conformados geraram e vão gerar mais ainda. Os refugiados que nos vão bater à porta, e muito em particular as refugiadas, são também responsabilidade dos nossos governos e do nosso país. É bom que não nos esqueçamos disso.
Neste momento parece haver uma expectativa por parte das chancelarias ocidentais e dos governos da União Europeia de que os talibã se portem relativamente bem e que a vaga de refugiados que se espera para os próximos tempos não seja muito grande nem muito demorada. Contrariamente à crença xenófoba, a esmagadora maioria dos refugiados não quer “vir para cá”; preferem antes esperar num país vizinho que as coisas acalmem e depois regressar a casa. Mas não temos boas razões para crer que isso possa acontecer agora; os afegãos que temem pela vida observaram o colapso rápido do seu governo corrupto e aperceberam-se dos colossais erros de cálculo dos ocidentais em relação à velocidade com que os talibã chegariam a Cabul. Não vão ficar à espera de ver se as esperanças ocidentais no bom comportamento dos talibã se confirmam ou não. Provavelmente milhões de pessoas vão pôr-se à estrada, correndo riscos e fazendo milhares de quilómetros. Contarão com a ajuda do ditador Lukashenka, que tem promovido já a passagem de afegãos pelo território bielorrusso para os países bálticos, para assim embaraçar a UE. Na Turquia, o jornal pró-governamental Daily Sabah dizia já ontem que era preciso mais dinheiro da UE para pôr em marcha “um plano de ação emergencial sob supervisão da Turquia enquanto país de trânsito”. A mensagem é clara: ou há mais dinheiro ou haverá afegãos a chegar às ilhas gregas.
Há uma forma de contornar o oportunismo dos Lukashenkas e Erdogans: é serem os europeus a convocar o Conselho de Segurança da ONU e pedir a assistência do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados no desenho de um projeto de reinstalação específico, com promessas de países por quotas. O Canadá já deu o primeiro passo, garantindo que receberia vinte mil refugiados. E nós?
Mesmo que não se concretize uma vaga de refugiados de grandes dimensões, vai ser sempre preciso acudir às necessidades mais prementes. E estas agora são sem dúvida a das mulheres afegãs que deram tudo pelo seu país e acreditaram nas vãs promessas ocidentais de proteção: professoras, estudantes universitárias, jornalistas, ativistas, políticas. As nossas cidades, as nossas universidades, as nossas instituições têm de começar a mexer-se por elas.
Foram os nossos países e os nossos governos que as puseram e deixaram nesta situação. A responsabilidade política é também nossa.
(Crónica publicada no jornal Público em 16 de agosto de 2021)