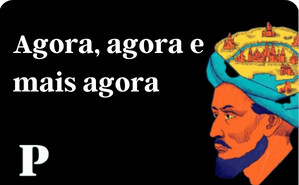|Do arquivo Público 27.08.2021| Alguém disse — creio que o filósofo alemão Ernst Bloch, mas talvez outros seis antes dele — que cada grande ideia nasce sete vezes de maneira diferente. O que se esqueceram de dizer é que cada má ideia nasce pelo menos setenta vezes, e que para a corrigir seria preciso repetir cada pequena verdade pelo menos setecentas.
A noção de direitos humanos é uma dessas grandes ideias que nasce pelo menos sete vezes de maneira diferente. Na sua encarnação moderna, aproximadamente com a mesma terminologia, ela aparece logo a seguir à Revolução Francesa e à abolição dos direitos feudais e é também defendida em inglês por um autor como Thomas Payne, que foi um dos ideólogos da Revolução Americana. Mas desde logo essa formulação dos Direitos do Homem — Droits de l’Homme, Rights of Man — foi sujeita a crítica por parte de autoras como Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft, que logo nas semanas e meses seguintes detetaram nela um viés excludente em relação às mulheres (a primeira pagou com a cabeça na guilhotina pelo atrevimento). E quando esse viés foi finalmente corrigido — de Direitos do Homem para Direitos Humanos — não foi por ação de uma mulher ocidental, mas da delegada indiana às primeiras sessões da Comissão de Direitos Humanos da ONU em 1948, Hansa Mehta, como antes na própria inclusão das mulheres e dos direitos humanos na Carta das Nações Unidas tivera papel preponderante a delegada brasileira Bertha Lutz.
Logo durante as deliberações para a Declaração Universal de Direitos Humanos houve o temor por parte de alguns delegados — sintomaticamente, os ocidentais — de que o conceito de direitos humanos fosse demasiadamente, ou mesmo exclusivamente, particular à tradição europeia e norte-americana. Isso refletia mais uma certa má consciência e ignorância do que qualquer outra coisa. Na verdade, foram os delegados não-ocidentais às primeiras sessões das Nações Unidas — o filipino Carlos Romulo, o chinês PC Chang e o libanês Charles Malik — que mais confiança demonstraram em que os direitos humanos tinham raízes em mais do que uma — em muitas, ou mesmo em todas — as tradições morais e filosóficas da humanidade. Os dois últimos apoiaram os esforços da UNESCO, acabada de nascer, fizesse um inquérito a pensadores, artistas e juristas, entre outros, de várias regiões e religiões do mundo, para lhes perguntar que ideias havia nos seus patrimónios civilizacionais que pudessem servir de fundações à Declaração Universal de Direitos Humanos. As respostas foram muitas, fascinantes e unânimes — tendo contribuído para fazer, até hoje, dos direitos humanos a “língua franca” política da humanidade.
Portanto, se vos vierem dizer, mais uma e tantas vezes, que os “direitos humanos são uma imposição ocidental” — não, não são. Para a redação da Declaração Universal, os EUA e o Reino Unido foram derrotados algumas, nomeadamente na inclusão de direitos económicos, sociais e culturais defendidos naquele debate pelo bloco soviético. Poderia a Declaração Universal ter ido mais longe? Seria desejável, mas tendo em conta a regressão em que vivemos hoje, é duvidoso que conseguíssemos melhor. Há aproveitamentos cínicos, oportunistas e interesseiros dos direitos humanos? Claro que sim, nem nunca seria de esperar que deixasse de haver. Pôr-se palavras no papel não serve para mudar a natureza humana.
Mas o facto de haver esses aproveitamentos não justifica que se deite fora o bebé com a água do banho e que, de cada vez que haja uma hipocrisia política de qualquer superpotência — e elas são frequentes — se ponha em causa aquilo que nos deveria unir.
Se os direitos humanos não forem universais, eles não poderão ser considerados direitos de todos os humanos à nascença. E isso seria o melhor presente que poderíamos dar ao regresso de um mundo dividido entre poderes feudais. Dizê-lo é uma banalidade, mas vale a pena repeti-la setecentas vezes.
(Crónica publicada no jornal Público em 27 de agosto de 2021)