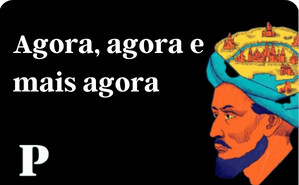|Do arquivo Público 17.02.2021| Numa aldeia do Ribatejo, talvez em 1937, um homem estava a trabalhar na eira quando viu passar por cima de si um dirigível que ia para a América. Chamou os seus então seis filhos para que vissem aquele prodígio, “parece um porco a voar no céu”, disse. Esse homem era o meu avô, que morreu em 1943 com 45 anos apenas, e oito filhos, o último acabado de nascer quinze dias antes. Uma das crianças que dobrava o pescoço para ver o Zeppelin — “Zorplim”, dizia-se ali na aldeia — era a minha mãe, que faz hoje noventa anos.
Eu já contei esta história aqui, e para salientar o que a minha mãe costuma argumentar a seguir, que a geração dela terá sido a que mais mudança viu no mundo em séculos — em minha opinião, desde a geração de 1500. Na aldeia onde ela nasceu não havia eletricidade, não passavam automóveis, e o primeiro sinal da modernidade — a radiotelefonia — chegou durante a sua infância. Andava-se descalço, morria-se de tuberculose, sabia-se quem eram os “órfãos da pneumónica”, falava-se da “guerra do Hitler”. Hoje, nova pandemia, a minha mãe vê os netos e bisnetos segurando nas mãos um objeto impensável à época da sua infância, a poucos metros do edifício onde fez os seus três anos de escolaridade na aldeia.
A minha mãe veio para Lisboa aos dezassete anos e em 1948 a capital do país era outro mundo, com carros elétricos, neons, telefones, cinemas e automóveis. Mas as maiores mudanças que a minha mãe veria ao longo da sua vida não têm nada a ver com tecnologia. A minha mãe veio para Lisboa para ser criada de servir. Ela e centenas de milhar de outras adolescentes e jovens mulheres como ela, cuja condição servil é hoje esquecida em parte por constrangimento social — e no entanto quantos milhões de nós em Portugal seremos filhos e netos dessas mulheres? — e em parte por ser um trabalho hoje inconcebível para quem tem os mesmos dezassete anos.
A família em cuja casa a minha mãe passou os treze anos seguintes, até sair para casar, era de salazaristas convictos, beneficiários e apoiantes do Estado Novo, com um pater familias brigadeiro. A minha mãe tinha pesadelos com Salazar e dizia-o, ao que o seu patrão lhe respondia que se ela fosse instruída já estaria presa. As minhas tias encontraram lugar noutras famílias do mesmo prédio; quando uma delas se queixou de só comer açorda (sem ovo, ao contrário da cadela da casa) a governanta ameaçou que a denunciaria à PIDE “por bolchevista”. Os meus tios vieram também para Lisboa e um deles foi mesmo preso pela PIDE, uma, duas, várias vezes, submetido a tortura e encafuado em Caxias e Peniche. Há uns anos descobrimos na Torre do Tombo as cartas que a minha avó, a viúva mãe dos oito filhos, escrevera diretamente a Salazar e a Marcelo Caetano rogando pela libertação do seu filho. Há também uma carta escrita e assinada pelos meus primos e os meus irmãos a pedir que o nosso tio pudesse sair da prisão no Natal, creio que de 1973, já eu era nascido.
As maiores transformações que aquela geração viu foram portanto sociais, culturais e políticas. E porque foram sociais, culturais e políticas, não se pode dizer que as “viram”. Elas e eles daquela geração e das seguintes fizeram essas mudanças, quer tenham ou não estado conscientes disso, por ação, omissão ou mera participação na vida coletiva e nas mudanças de mentalidades. Eles nasceram em ditadura, cresceram em ditadura, casaram e tiveram filhos em ditadura (e alguns até os perderam, ou aos irmãos e primos, na guerra colonial). Os meus pais só viram a democracia pela primeira vez quase com a idade que eu hoje tenho. Em democracia, o objetivo pessoal principal de muitos deles passou a ser a educação dos filhos — uma geração com quatro anos de escolaridade cujas maiores vaidades foram as licenciaturas dos filhos e os mestrados e doutoramentos e “erasmus” das netas. Mas o país e o mundo ainda mais incomparável é o das mentalidades: há doze anos precisos saí de um debate televisivo para dar os parabéns à minha mãe e ouvi-a dizer-me que tinha mudado de posição e passava a ser então, aos 78 anos, favorável ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Tudo coisas para lá do imaginável à menina que olhava para o Zeppelin. Não menos inimagináveis, num ambiente cultural então cheio de convicções seguras sobre o mundo acabar no ano 2000, do que estar viva agora em 2021 à espera da vacina contra o Covid-19 para poder abraçar os netos e bisnetos.
Nunca ou quase nunca escrevo crónicas pessoais — e esta também não o é. Mas as horas passaram sem eu dar conta, escrevendo estas linhas sobre como todos aqueles a quem chamamos pessoas comuns, nós todos no fundo, vemos e fazemos história sem dar por isso e que é esse um poder desapercebido que podemos usar com sabedoria todos os dias. Por causa da história, pessoas a quem chamamos comuns têm, sem exceção e sem escapatória, vidas incomuns.
(Crónica publicada no jornal Público em 17 de fevereiro de 2021)