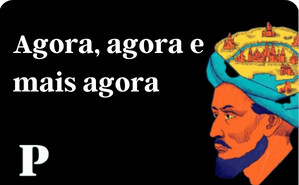Na semana passada José Manuel Durão Barroso apresentou um “Plano para uma profunda e genuína União Económica e Monetária” que teve muito destaque na imprensa internacional e alguns elogios inesperados por prever a emissão dos eurobonds que tantos observadores têm declarado como a única possibilidade para estabilizar a zona euro.
(Eu vou mais longe: sem eurobonds, desde que entendidos como dívida federal europeia e não dívida mutualizada, o euro não tem futuro.)
Que propõe então Durão Barroso? Eurobills, ou seja, dívida europeia de curto prazo (dois anos no máximo). Está bem de ver que com dívida a dois anos é impossível relançar a economia europeia, em particular das periferias, para lhes dar crescimento e emprego, libertando-nos a médio prazo da dívida excessiva. O máximo que será possível é refinanciar dívida, ou seja, prolongar o vício — embora estabilizando-o. Mas há pior: embora a isso não seja obrigado pelos tratados, Barroso diz que só haverá eurobills com unanimidade no Conselho — o mesmo é dizer que não haverá enquanto a Alemanha se opuser. Não saímos da cepa torta.
E esta era a parte boa. Ainda antes, Barroso estabelece as fundações para uma vigilância de políticas orçamentais e financeiras que significa, no fundo, o estabelecimento de uma troika europeia. Uma troika para sempre e para toda a gente. No curto prazo, sugere o plano, a Comissão reforçará os seus poderes de supervisão e veto sobre os orçamentos nacionais. Esta parte deve estar concluída em dezoito meses e só depois, se os parlamentos nacionais tiverem aquiescido, poderão os países em dificuldade ter acesso ao rebuçado dos eurobills, que talvez apareçam — ou não.
O mais sério aparece a seguir. Num prazo de cinco anos, a Comissão propõe que haja uma política de coordenação fiscal e um esboço de política industrial. Muito bem, mas de quem? Da União Europeia? Não. Da zona euro, que ainda tem menos instâncias de controlo democrático do que a UE. O plano de Durão Barroso é mais um passo na divisão de personalidade europeia, entre um Dr. Jekyll (a União) e um Mr. Hyde (o euro), em que inevitavelmente o segundo vai acabar por concentrar todo o poder e dominar, ou até matar, o segundo.
Para depois de cinco anos ficam as possibilidades de refinar “o singular modelo de democracia da União”. Chegado aqui, confesso que dei um pulo: “um singular modelo de democracia”, parece-me, é o que a China diz sobre si mesma. A União não é uma democracia, singular ou não, que satisfaça qualquer democrata digno desse nome: é, por agora, uma confederação gerida por tecnocratas.
Esta crença de que é possível tratar da governança económica agora e deixar a democracia para depois é uma irresponsável ilusão, pois a realidade não pára quieta. Depois de os países poderosos conseguirem cristalizar o cartel de estados em que o projeto europeu se tornou, não voltarão a conceder poder. Quando o gato se apanha com a sardinha na boca já não a larga.
Nestas situações, deixar a democracia para depois é deixá-la para nunca. O que nós precisamos é de democracia europeia já. Teremos de a conquistar, ou construir, ou o projeto europeu perecerá.
(Crónica publicada no jornal Público em 05 de Dezembro de 2012)