 Jacarta, Indonésia. — Não é por falsa modéstia que os indonésios não gostam de ser apresentados como a “história muçulmana democrática de sucesso”. É pela insistência na parte “muçulmana” mesmo.
Jacarta, Indonésia. — Não é por falsa modéstia que os indonésios não gostam de ser apresentados como a “história muçulmana democrática de sucesso”. É pela insistência na parte “muçulmana” mesmo.
E não é que eles não sejam muçulmanos — são-no, na sua grande maioria, embora sejam também hindus, budistas, cristãos, ahmadianos (uma seita islâmica com cada vez mais adeptos que considera que Maomé não foi o último profeta) e também muito seculares. Mas foi enquanto indonésios que conquistaram a democracia, e chateia-os que lhes queiram tirar isso.
“Você gostaria que apresentassem Portugal apenas como um exemplo da compatibilidade entre democracia e catolicismo?”, pergunta-me um diplomata que aqui serviu duas vezes e muitos anos. Por ridículo que pareça, não é que isso não tenha sido sugerido no nosso tempo — houve uma altura, e foi há uma geração apenas, em que só exceções entre os países católicos se podiam contar como democráticas. Foi Portugal a Tunísia do mundo católico? Poderia, sei lá, explicar-se as católicas Filipinas através de Portugal, só por causa da religião?
Para a maioria dos indonésios, a questão “muçulmana” não faz sentido. A obsessão é nossa, não deles. Seguem com interesse o que se passa no mundo árabe, mas chamam-lhe “os acontecimentos em África”, denotando a sua distância.
E sim, têm algo para dizer aos tunisinos e egípcios — mas, insistem, enquanto democracia recente, e não como muçulmanos. Há uma dúzia de anos, os indonésios fizeram o que hoje fazem os árabes, e sabem que a história deles não é perfeita. Para garantir a transição aceitaram a impunidade do antigo regime (nada que Portugal e Espanha não conheçam). A corrupção é generalizada (mas uma operação da comissão anti-corrupção, que tem poderes especiais, prendeu recentemente 24 deputados de vários partidos — incluindo dos que estão no poder — por drenagem de fundos públicos). E, sim, o extremismo é um problema, ou melhor, os extremistas causam problemas graves (recentemente, assassinaram três ahmadianos; porém, os partidos islamistas não têm mais de doze por cento nas urnas, e estão hoje desacreditados).
O nome por que Jacarta é familiarmente conhecida é o de um fruto enorme, espinhudo e muito mal-cheiroso (o dúrio) parecido com a brasileira jaca. “The Big Durian”, em inglês, daria assim incorreta mas adequadamente uma tradução para a “Grande Jaca” em português.
A explicação é que à primeira vista Jacarta não é agradável à vista. Dizer que tem poluição, engarrafamentos, lixo, inundações e canais infectos é falhar o alvo por baixo. Jacarta não tem engarrafamentos; Jacarta parece ser um único, gigantesco, engarrafamento. Jacarta não tem poluição; a poluição tem Jacarta.
Mas dizem que depois de provada a Grande Jaca, ou se continua a detestá-la ou se dá um salto para o lado oposto e se passa a adorá-la.
No bairro de Kemang, à noitinha, vou pela rua (que se diz “jalan” em língua indonésia) em caminhada (“jalan-jalan”; o indonésio tem esta característica curiosa de repetir palavras, em particular para fazer o plural) respirando a poluição como uma carícia e apreciando o trânsito como um interminável quadro. Um bar anuncia uma noite de música improvisada só para “mulheres rockeiras”. Um pátio de comida oferece pratos chineses, japoneses, malaios, indianos e até persas. Sento-me numa mesa lendo a versão inglesa da revista “Tempo”, fundada por opositores à ditadura de Suharto.
O editorial é dedicado às revoluções árabes e a interpretação que delas faz é quase simples: “estes ditadores podem sair já com alguma dignidade ou daqui a pouco tempo sem dignidade nenhuma”. Acho que eles sabem do que falam.

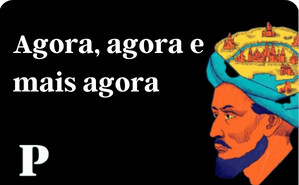



One thought to “A Grande Jaca”
Ah, a “Grande Jaca” que, para além da progressiva – lenta, porventura, mas segura… – transição para a democracia, se tem comportado quase exemplarmente, no último decénio, para com o “Pequeno Crocodilo”, seu vizinho do Sul…