O desfazer do consenso de 1755 está diante de nós, é ingénuo, mas é mortífero.
Há 255 anos, talvez na hora em que está a ler estas palavras, Lisboa foi sacudida por um dos mais violentos abalos sísmicos já documentados. Depois foi varrida por um tsunami. Finalmente, os fogos que arderam durante os dias seguintes destruíram o que restava do centro da cidade.
Isto é bem conhecido, como é conhecida a expressão atribuida a Sebastião José de Carvalho após o terramoto — embora talvez não tenha sido proferida por ele — “enterrar os mortos e cuidar dos vivos”. Aquilo que de poucas vezes nos damos conta é que essa não era a única opção. Quem acreditasse que o terramoto era um castigo divino defendia que o arrependimento e a oração eram o caminho a seguir — e muitos defenderam-no.
Isto quer dizer que o caminho aberto pelo terramoto de Lisboa — “a primeira catástrofe moderna”, como já lhe chamaram — não é evidente, nem permanente. Trata-se de um consenso em torno de ideias simples — de que as políticas públicas devem preparar as cidades e as populações para as catástrofes, de que o estado deve gastar dinheiro hoje para poupar vidas depois, em suma, de que para a próxima nos vamos sair melhor. Como todos os consensos, está sujeito a revisões e a sua manutenção depende de todos nós.
Para o constatar, avancemos no tempo. Há pouco mais de cinco anos, Nova Orleães estava debaixo da água trazida pelo furacão Katrina. Nessa altura houve um debate que testou os limites do consenso nascido após 1755. Alguns defensores desse consenso aperceberam-se com choque de que a estratégia de “esfomear de recursos o governo” se tinham revelado desastrosas. Os adeptos dessa estratégia sacudiram os ombros, defendendo que os habitantes de Nova Orleães não deveriam ter escolhido viver ali ou que deveriam preparar-se sozinhos para as catástrofes.
Exagero? Avaliemos as palavras do governador Bobby Jindal do Luisiana — onde se situa Nova Orleães —, uma das pessoas no mundo que mais razões para refletir sobre estas coisas. Em comentário a um discurso do Estado da União do Presidente Obama, Jindall decidiu criticar nem mais nem menos do que os programas de proteção civil do estado, considerando um desperdício o que se gastava em coisas — como monitoramento de vulcões — que não podem dar lucro no mercado. O desfazer do consenso de 1755 está diante de nós, é ingénuo, mas é mortífero.
Os libertários de direita, que querem desfazer o estado mas são obcecados com a propriedade — na verdade, mais proprietários do que libertários — chegam ao ponto de recusar o risco das catástrofes para poderem teimar nos seus fetiches. São, por exemplos, dos mais teimosos negacionistas do aquecimento global. Os libertários de esquerda, que são tão desconfiados do mercado como do estado, notam assustados que as características repressivas de ambos estão em crescendo (o estado policial, o mercado explorador) ao passo que as suas funções protetoras, arrancadas a ferros na história recente, estão em regressão.
Não precisamos de imorevistos para o constatar. Na catástrofe lenta de todos os dias vemos rasgões no contrato social. Mas eles serão dramaticamente multiplicados quando chegarem momentos como o de 1755. Tenho a certeza que nesse dia leremos títulos como “tinha de acontecer”. E artigos como este explicando que “não tinha de acontecer assim”.

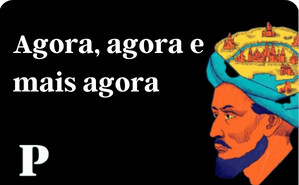



3 thoughts to “Tinha de acontecer”
É pena estar cada vez mais a deixar o mundo académico e a entrar na desonestidade intelectual da política. Esperava que iria ser uma força diferente no partido europeu e aqui em Portugal. No partido europeu tem defendido algumas coisas fundamentais, como os dados privados dos cidadãos na internet etc. Por aqui, tem-se colado a chavões, como mostra este texto. Quando quiser voltar para um debate a sério, com argumentos dedutivos lógicos e não generalizações ridículas (existem tantos tipos de libertários, entre os quais não está o Bobby Jindal), diga. Cá estaremos para o receber.
De alguém com uma “pendente libertária” que votou em si.
Para uma reflexão mais profunda e delicadamente tecida sobre o assunto, leia-se TAVARES, Rui, “O Pequeno Livro do Grande Terramoto”, Edições Tinta-da-China, 2005.
o que gostava era que os portugueses regressassem ao Maremoto em vez do Tsunami, importado por jornalistas analfabetos que não sabem traduzir os jornais americanos que por sua vez não parecem ter um termo próprio para designar uma catástrofe japonesa frequente.