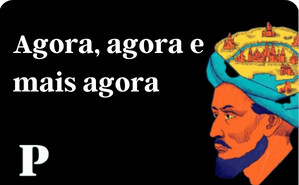Para indignar-se ele não usava o passado. Tinha a atualidade, e não a poupava. Nem ela a ele.
A short film about Tony Judt (YouTube)

Entender é difícil.
Ler os primeiros capítulos de Pós-Guerra — uma História da Europa desde 1945, de Tony Judt (editado em Portugal pelas ed. 70) — é perguntar “que continente é este”? Que continente é este que se matou e deportou desta forma. Numa página qualquer lá estão eles: os milhões de judeus mortos, milhões de ciganos mortos, centenas de milhares deste ou daquele povo (ucranianos, bielorussos, polacos, alemães) mudados de um lugar para o outro. A escrita é quase graciosa, de uma forma perturbante. Pousa sobre coisas que estão nos nossos alicerces sem ocultar nem escavacar nada.
Citado ao acaso: “Entre 1939 e 1941 os Nazis escorraçaram 750000 camponeses polacos para Leste e ofereceram a terra esvaziada a alemães”. “Poucas semanas após o fim da Guerra, uma em cada cinco pessoas de Varsóvia sofriam de tuberculose”. “As clínicas e médicos de Viena documentaram que 87000 mulheres foram violadas à passagem do exército vermelho…”. “Na Baviera em 1951, 94 por cento dos juízes e procuradores tinham sido membros do partido Nazi”.
Coisas pavorosas. Mas Tony Judt não escreveria tal palavra num livro de história.
Para indignar-se ele não usava o passado. Tinha a atualidade, e não a poupava. Nem ela a ele. Um único artigo seu sobre Israel e a Palestina — ele, judeu inglês morando em Nova Iorque, que na juventude trabalhara nos kibbutzim israelitas, dizendo que “Israel é hoje má para os judeus” — valeu-lhe inimizades profundas.
O texto começava assim: “O processo de paz no Médio Oriente acabou. Não morreu. Mataram-no.” Mesmo nesses artigos Tony Judt era preciso e elegante. E tal como não traficava a política para a história, também não usava a história para resolver as suas brigas políticas. As suas melhores qualidades apareciam de forma diferente na escrita histórica e na escrita política.
Há pouco mais de seis meses, Tony Judt publicou na New York Review of Books um ensaio chamado “Noite”. Logo na abertura explicava que sofria de esclerose lateral amiotrófica. Tinha perdido o uso dos quatro membros e o controlo do tórax. Sabia que perderia a fala, e que depois disso ficaria fechado no seu mundo. Depois deixaria de respirar, e morreria.
O texto descrevia como eram as noites de quem não “pode coçar-se, ajustar os óculos, ou fazer as coisas que — se pensarmos um momento — todos fazemos dúzias de vezes ao dia”. “Não se perde o desejo de nos espreguiçarmos, nos dobrarmos ou até de fazer exercício. Mas não há nada — nada — que possamos fazer para satisfazer esse desejo”. Tony Judt chamava à sua doença (traduzindo livremente): “o pior tipo de prisão domiciliária”.
De máscara de oxigénio presa ao rosto, deu as suas últimas aulas e palestras. De uma delas resultou o seu último livro, político, uma apologia da social-democracia europeia.
Passou-se então uma coisa extraordinária. Tony Judt já era um ensaísta de primeira água, como historiador ou como “político”. Ele já tinha ideias; decidiu também abrir a sua escrita à intimidade, ao humor e à leveza. Limitado à fala e à memória, Tony Judt foi ditando ensaio após ensaio: sobre a infância, sobre o tempo em que as pessoas andavam de barco, sobre apaixonar-se por uma aluna, sobre “crescer rodeado de palavras” e, finalmente, viver agarrado a elas.
Tony Judt morreu na sexta-feira passada, mais repentinamente do que esperado. Desconfio que não quis ficar sem palavras.