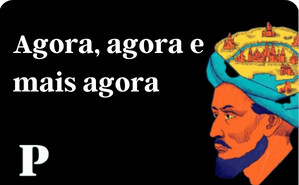As coisas que nos fazem chorar e as que nos fazem rir funcionam de maneira diferente. Nós rimos por explosões e choramos por implosão.
Contaram-me uma vez esta história: uma pessoa que durante dez anos não tinha conseguido chorar. Apesar de nessa década ter acontecido o que por força acontece no decurso de uma década, mortes, separações, despedidas, e o sofrimento em cada uma dessas coisas ser igual ao que sempre tinha sido — essa pessoa queria chorar, e tentava forçar o choro, mas o choro não vinha.
Um dia foi ver um filme melodramático italiano, e chorou baba e ranho. Ficou envergonhada ao pensar afinal que raio de pessoa era, que não chorava com uma morte ou uma separação, mas que desabava com um filme que nem sequer era muito bom.
Esforçou-se então, através de uma laboriosa rememoração, por ir buscar a última vez que tinha chorado antes da década sem choro. E descobriu algo que sempre tinha sabido, mas que tinha também esquecido. O acontecimento em causa tinha ocorrido quando ainda era jovem. Para tentar conter o choro tinha então dito essa pessoa para si mesma: “isto não é verdade, isto não está a acontecer, é como se fosse um filme”.
Era na palavra “filme” que estava a chave do enigma. O acontecimento traumático de dez anos antes tinha sido dominado ao fingir que se tratava de um filme. E o alçapão que fora encerrado dessa forma só pôde ser reaberto, muito tempo depois, por um filme verdadeiro.
Nós, animais ficcionais, contamos histórias de uma forma que mais animal nenhum faz. Desde o início; mitologias, lendas, fábulas, genealogias, histórias de cavalaria. Começa quando somos crianças; contam-nos histórias a nós, e nós inventamos brincadeiras com histórias dentro, “agora eu era isto e tu eras aquilo”. Contamos histórias coletivas, sobre o país, e sobre o regime, e sobre por que são as coisas desta ou daquela forma. Algumas das histórias são inventadas e é mesmo assim inventadas que as queremos. Outras são verdadeiras, e são sobre nós mesmos, e omitem alguns pormenores e realçam outros. Ajudam-nos a fazer sentido de nós.
É a primeira tentativa de levar o meu afilhado ao cinema, e falhou. Queríamos ver um filme de animação com brinquedos, a três dimensões. Mas parámos antes numa loja para eu lhe oferecer um joguinho eletrónico e, quando chegámos à bilheteira do cinema, os ingressos para o filme já estavam esgotados.
A minha inexperiência destas coisas deitou a perder a nossa tarde. Eu tinha lido uma crítica ao filme no Financial Times — um jornal sisudo. E nela o crítico — certamente também um homem sisudo —, confessava ter chorado durante o filme todo. Sim, dizia ele, o filme é muito bem feito, e as três dimensões estão ali aproveitadas de uma forma magnífica. Mas foi a história que me fez chorar, dizia o crítico sisudo, só as boas histórias conseguem isto.
Ele tem razão; sobre o filme não sei, mas sobre o resto. As coisas que nos fazem chorar e as que nos fazem rir funcionam de maneira diferente. Nós rimos por explosões e choramos por implosão. As coisas que nos fazem rir podem ser mais unidimensionais. As coisas que nos fazem chorar têm de funcionar por dentro, e apanhar-nos por diversos pontos ao mesmo tempo — como as memórias da infância.
Pergunto ao António se ele não ficou chateado por perdemos o filme. E olho para ele: seis anos, franjinha na testa, óculos vermelhos, ossos de passarinho. Ele diz: “não; pelo menos sempre tenho o meu joguinho”. Uma história para ajudar a explicar aquele pequeno desaire. E faz uma carinha estóica, como quem diz: não vou chorar.