Como qualquer historiador, tenho limites para a imaginação. Como qualquer cidadão, tenho preferências para o futuro.
Dizem que o tema dos historiadores é o passado. Errado. O tema dos historiadores é a mudança (“l’histoire, science du changement dans le temps”, escreveu Marc Bloch). Essa mudança estende-se nos dois sentidos da linha do tempo, e toda ela interessa ao historiador.
O grande problema do futuro, do ponto de vista do historiador, é apenas que não está documentado.
A grande vantagem do futuro, do ponto de vista do cidadão comum, é que ainda não aconteceu. Teoricamente, isto significa que temos ainda espaço para que a agência humana — aquilo que nós fizermos entretanto — possa modificar o futuro. Daqui de onde estamos partem múltiplas linhas de história para o futuro, que ao historiador parecem semelhantes às múltiplas linhas que vêm do passado com as histórias que dele se podem contar.
Cartas na mesa, então. Escrevo este texto com temperamento de historiador e com vontade de cidadão. Como qualquer historiador, tenho limites para a imaginação. Como qualquer cidadão, tenho preferências para o futuro.
Por isso escolho três histórias para a Europa, e não uma, o que seria antipedagógico de duas formas. Historiograficamente, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Democraticamente, porque o que vai acontecer ainda depende do que nós fizermos.
Hipótese 1: a Democracia europeia
Esta urgência democrática é bem real. O que vai acontecer nos próximos 25 anos depende muito do que fizermos nos próximos 25 dias. E o que fizermos nos próximos 25 dias é o que nos permitirá chegar aos próximos 25 meses com as bases lançadas para o objetivo mais importante de todos: a construção de uma Democracia Europeia.
Até ao fim do ano de 2011, a União Europeia teria de encontrar uma solução de curto prazo para estancar a crise do euro. Essa solução passaria pela emissão de títulos da dívida, os eurobonds (de que há vários modelos; não entrarei aqui em detalhes). Mas isto não chega; uma recessão é já inevitável e, mesmo sem ela, é preciso recuperar várias economias europeias, entre as quais as da periferia. Isto poderia ser feito com apoio do Banco Europeu de Investimento, a que se associariam os eurobonds, e constituiria um novo “plano Marshall” europeu, um investimento de biliões de euros em infraestrutura, economia verde e investigação & desenvolvimento.
E agora a pergunta? Quem iria gerir esse dinheiro todo? A União Europeia tem um problema de legitimidade política e democrática. Como resolvê-lo? Simples: através da eleição de um primeiro-ministro europeu.
Em Maio de 2014 há eleições europeias. Nestas eleições deveriam apresentar-se candidatos a Presidente da Comissão Europeia, à cabeça dos partidos pan-europeus que já existem. Esses homens e mulheres fariam campanha por todos os países e capitais da União, apresentando o seu programa e legitimando democraticamente as opções que o vencedor viesse a apresentar à cabeça da Comissão. Os nomes não precisam de mudar, mas na realidade a Comissão passaria a ser um governo, e a sua (ou seu) presidente uma espécie de primeiro-ministro eleito por 500 milhões, finalmente capaz de falar com os presidentes e chanceleres dos Estados-Membros numa posição de igual (ou maior) legitimidade.
Logo a seguir a esta eleição teríamos provavelmente um conflito inter-institucional porque, na verdade, quem nomeia o Presidente da Comissão é o Conselho. Mas o Presidente da Comissão não pode tomar posse sem voto no Parlamento Europeu e um pacto entre os partidos antes das eleições incluiria uma cláusula simples: o Parlamento não aceitaria nenhum Presidente da Comissão que não fosse o vencedor de eleições europeias (tal como pode já hoje demitir a Comissão a qualquer momento do seu mandato). O Conselho não teria outra hipótese senão abrir alas ao nascimento da democracia europeia.
A partir do momento em que os cidadãos europeus se habituassem a eleger o seu primeiro-ministro seria impossível voltar atrás. Mas podemos ir mais longe.
Um belo ano, lá para 2020, um país como Portugal decidiria que as posições nacionais no Conselho carecem de debate público. Para colmatar essa lacuna, esse país passaria a eleger o chefe da sua Representação Permanente na UE, que normalmente é um diplomata ou burocrata de carreira. Não há nada que pudesse impedir esse país hipotético de eleger esse cargo, após o que seria provavelmente seguido por outros países, dando-se assim um passo para que o Conselho se aproximasse de um Senado Europeu.
Com estes simples passos, a União daqui a 25 anos seria uma coisa muito diferente. Seria uma espécie de Federação, mas isso não é o ponto mais importante, pois há federações democráticas e outras que não o são. A União nunca seria um país como os nossos; e não teria uma equipa única de futebol no Mundial, Zeus nos livre. A questão europeia não é identidade cultural, mas de poder. A União tem já muito poder, ganha mais poder a cada ano que passa, e nós precisamos de estender a soberania popular até onde esse poder está.
Quero notar apenas mais uma coisa: até agora não falei sobre mudanças dos Tratados. Por uma razão simples: não é preciso. Tudo o que até agora descrevi pode ser feito sem mudar os tratados, apenas com consciencialização política e mobilização dos cidadãos. Os tratados que temos são muito imperfeitos (fui o primeiro a prever que o Tratado de Lisboa não duraria uma geração, ao contrário do que foi dito no dia da sua assinatura), mas não são o principal obstáculo à Democracia Europeia.
Hipótese 2: diretório e fragmentação
A Europa de hoje não é uma democracia, mas um clube de democracias, o que é uma coisa muito diferente. Num clube, quem manda é o sócio mais poderoso.
É essa realidade que temos descoberto, a duras penas, durante a crise da zona euro. Nenhuma ideia, por excelente que seja, sobrevive à discordância da Alemanha. Nenhuma má ideia deixa de ser implementada, desde que a Alemanha insista nela.
Isto é uma receita para o desastre porque o governo da Alemanha só responde aos estímulos do seu eleitorado, como é natural que aconteça num quadro de política nacional. Mas quando a política europeia administra bens comuns (uma moeda única, desde logo) que podem causar a ruína de todos, esta assimetria causa tensões dilacerantes. Se lhes acrescentarmos a tendência para a imitação em outros países reféns de partidos populistas, temos um cenário de paralisia das instituições europeias numa realidade económica e social que não pára quieta.
Neste momento seria sentido para nos deixarmos de perguntar sobre a Europa e começarmos a perguntar-nos sobre o que deveria fazer Portugal.
Dizia sempre o Presidente Ramalho Eanes, nas vésperas da nossa entrada na então CEE, que para Portugal a Europa deveria ser uma opção e não uma inevitabilidade. Se a Europa se tornar numa inevitabilidade má, muitos países tomarão as suas opções enquanto puderem.
E é assim que o diretório franco-alemão, que agora se limitou a germano-alemão, pode fragmentar a União Europeia.
Hipótese 3: desvanecimento
O que acontece então? A história diz-nos a guerra, mas essa é uma leitura apressada: o futuro não tem de ser igual ao passado, e hoje não faz grande sentido mandar os tanques para as linhas Maginot.
Mas a União Europeia pode ter um destino menos dramático: tornar-se irrelevante. Acontece. Não precisa de desaparecer, como a Sociedade das Nações, mas pode ficar como o Conselho da Europa, uma instituição simpática que não é um ator global.
Num mundo dominado por grandes atores semi-continentais (China, EUA, Índia, Brasil) tal estado de coisas deixaria os povos da Europa sem autonomia para prever e controlar o seu destino.
Cabe-lhes então fazer escolhas, enquanto ainda podem.

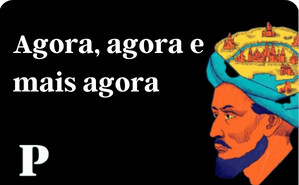



One thought to “Três histórias para a Europa”
a cabeça a meia-haste é muy falacioso falicum
e com o viagra sem con participação…and so it goês