Escrever é agora para mim um exercício de ouvido. O cérebro procura lembrar-se de como a língua pronuncia aquela palavra, tenta ouvi-la dentro da cabeça, para depois a poder escrever. Eu digo aquele “c” em espectador e aquele “p” em conceptual?
Naquele tempo era sempre festa. Bastava sair de casa e atravessar a rua para ficar como louco, e era tudo tão belo, especialmente de noite, que regressando mortos de cansaço esperava-se ainda que qualquer coisa acontecesse, que começasse um incêndio, que nascesse uma criança em casa, ou então que o dia nascesse de repente e toda a gente viesse para a rua e se pudesse continuar a andar a andar até aos campos e depois por detrás das colinas. — Sois sãos, sois jovens, — diziam eles, — sois rapazes, não tendes consciência, bem se vê —. E uma deles, aquela Tina que tinha saído manca do hospital e que não tinha de comer em casa, ainda assim ria por tudo e por nada, e uma noite, caminhando atrás dos outros, tinha parado de repente e pôs-se a chorar porque dormir era uma estupidez que roubava tempo à alegria. [Cesare Pavese, La bella estate, 1940-49]
Num dia do verão de 1952, um pianista de concerto interpretou pela primeira vez a peça de John Cage que consiste em quatro minutos e trinta e três segundos de silêncio. Ou seja, o pianista sentou-se em frente ao piano e não tocou nenhuma nota durante aquele tempo. A meio da peça começou a chover, e as gotas grossas batendo no telhado eram tudo o que se ouvia. No fim da peça houve gente que abandonou a sala e deixou claro o seu desagrado, vociferando contra o compositor, o intérprete, e o estado das coisas em geral. Achavam aqueles espectadores que aquilo a que tinham acabado de assistir era uma provocação, em mau (“uma merda”). Muitos críticos de arte acharam o mesmo, mas em bom (“conceptual”). Recentemente li outra explicação, mais simples: os quatro minutos e trinta e três segundos de silêncio de John Cage ensinavam que não havia silêncio — havia as gotas de chuva, os protestos do público — e eram como uma janela para o que estava por detrás.
Escrever é agora para mim um exercício de ouvido. O cérebro procura lembrar-se de como a língua pronuncia aquela palavra, tenta ouvi-la dentro da cabeça, para depois a poder escrever. Eu digo aquele “c” em espectador e aquele “p” em conceptual? Se sim, escrevo-o. Se não, omito-o. “Nocturno” tornou-se “noturno” por um “c” que na pronúncia se extinguiu há muito tempo atrás. Se tenho saudades de “nocturno”? Sim. Mas gosto já de “noturno”. Nocturno é soturno; noturno é sensual; e gosto mais ainda de “noiturno”, uma palavra que talvez nunca tenha existido nem sei se existirá um dia. Por causa desta responsabilidade letra a letra, o Público decidiu acrescentar mais uma linha ao final destas crónicas. Já viram o tamanho daquele penduricalho? Tem lá a minha vocação, a profissão, o cargo, como lá cheguei, em que condições, e agora a ortografia que uso e porquê. Uff. Cada vez mais coisas, como os contratos de letra miudinha. Um dia aquele penduricalho crescerá, crescerá, e eu próprio desaparecerei.

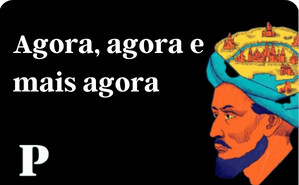



One thought to “Noturno”
Nocturno pode não ter “c” como o “estio” pode ser feminino…
Maravilhoso esse romance de uma “virgindade que se defende”, dizia o Autor…. Nocturno, com as suas noctívagas personagens…
Sem “c” não será menos sensual o poema francês nocturno de Rilke, “Sa Nuit d’Eté”, nem menos paradoxalmente amante da vida o “Soneto de la Noche” de Neruda, nem tão-pouco menos cintilante a certeza nas maravilhosas sombras das estrelas de “Sure on this Shining Night” de Agee… (todos com “c” no CD de M. Lauridsen “Nocturnes”).
Só Chopin… Sem “c” nos seus “nocturnos”… perde em retorcimento técnico (também chamado virtuosismo)… Talvez a sua prosódia musical ganhe em simplicidade… quiçá?
Noturnos, pois… Sem o “c” que geometricamente grava no céu a lua gibosa minguante…